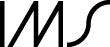A Sessão INDETERMINAÇÕES: Grande Otelo, enigma das contradições está em cartaz em julho no cinema do IMS Paulista e IMS Poços.
“Procuro servir sempre ao meu público, fazendo o que as pessoas esperam de mim. Se querem que eu as faça rir, por que vou fazê-las chorar?”[1] A fala de Grande Otelo foi proferida frente à exibição de Sebastião Prata, ou bem dizendo, Grande Otelo (Murilo Salles e Ronaldo Foster, 1971) no II Festival Brasileiro de Curta-Metragem. O ator continua: “Gostei de fazer esta experiência, de trabalhar com esses rapazes. Do filme que resultou ainda não sei se gosto.” O curta é estruturado a partir de depoimentos, mesclando imagens do trabalho e de seu cotidiano: casa, família, amigos. Os diretores relatam que o objetivo era desmistificar o ator e, por isso, há uma contradição intrínseca entre o ser e o artista[2] – uma tensão constante, inseparável da trajetória de Otelo.
Não se trata de resolver essa contradição aqui, mas de indicar um desejo: o de habitar esse espaço do entre, onde as fronteiras perdem sua rigidez e as imagens se recombinam ao infinito. Seguimos a deixa prenunciada ao combinar o Sebastião Prata, nome de batismo, ao Grande Otelo, o artístico. Entre um e outro, tantos: Bastiãozinho, Pequeno Otelo, Otelo Queiroz, Moleque Tião, Miro, Espírito da Luz…
O curta-metragem de 1971 termina com uma imagem desfocada: vemos pessoas andando na rua, sem nitidez. A princípio, ouvimos barulhos infantis, e logo uma voz surge: “Vocês devem estar ouvindo ruídos que não estão na imagem, possivelmente é porque eu estou em casa.” A imagem, junto à fala de Grande Otelo, parece um bom modo de encerrar um filme que tenta se aproximar de uma pessoa que, ao mesmo tempo que abriga muitos, também empresta muito de si para outros. Os ruídos ausentes da imagem, mas determinantes na sua constituição, se fazem ouvir para além do som – rastros de uma figura cuja vida se confunde com o ofício de ser ator ou, como ouvimos no filme: “Pequenininho, preto, ele gostava de chegar nos lugares e que todo mundo olhasse pra ele”.
Olhemos, então.
Sebastião Prata, ou bem dizendo, Grande Otelo começa com uma cena extraída de A dupla do barulho (Carlos Manga, 1953), em que Grande Otelo e Oscarito estão correndo de outros personagens. A típica comédia corporal assume um tom diferente a partir do silêncio da cena. Em seguida, ouvimos a voz de Otelo refletindo sobre seu passado. Palavras como “renúncias” e “omissões” aparecem em seu depoimento. A sequência, que, no longa-metragem de 1953, seria motivo de risadas, ganha contornos de tristeza. Talvez pela ausência da banda sonora, talvez pelo novo olhar que o tempo nos permite lançar sobre aquele corpo em fuga. Na releitura, o filme de Murilo Salles e Ronaldo Foster propõe uma espécie de melancolia, entrecortada pela beleza da família de Grande Otelo e pela grandiosidade de seus múltiplos personagens.
Em dado momento, vemos a sala de estar da casa em que ele vive: Grande Otelo está sentado sozinho no sofá; a câmera dá um zoom lento até enquadrar apenas seu rosto, que contém todos os sentimentos do mundo. Junto dessa imagem, ouvimos um samba de sua composição: “A vida não vale nada,/ pra que me aborrecer?/ Sou feliz vivendo assim,/ há de passar 100 anos/ até que se esqueçam de mim.” A música, muito pertinente para pensar seu legado, insere-se também na tradição sambista de cantar a tristeza com alguma alegria. O curta de 1971, no entanto, não tenta ser um “retrato alegre” de Grande Otelo, o que contrasta, em alguma medida, com a frase que inicia este texto e sua reivindicação pelo riso. No comentário durante o II Festival Brasileiro de Curta-Metragem, o ator parece compartilhar a necessidade de se explicar frente às demandas do público, de colocar suas dores de lado e ir para o palco. Possivelmente, um hábito que o acompanha desde muito jovem.
Quando ainda era Bastiãozinho, já despontava no centro de São Pedro de Uberabinha[3], cantava para transeuntes por trocados e fazia da rua seu primeiro palco. Em Minas Gerais, realizou sua estreia no circo e, pouco depois, foi adotado por uma família branca que o levou para São Paulo. Aos 11 anos, passou a se apresentar na Companhia Negra de Revistas[4], fundada por D’Chocolat e Jaime Silva. A novidade era um teatro de revista majoritariamente negro. O espetáculo de estreia, Tudo preto (1926), teve uma recepção heterogênea, mas não escapou de notas da imprensa de cunho abertamente racista. Mário Poppe escreveu na revista Fon-Fon que os artistas negros “haviam desertado do nosso serviço doméstico para o palco da avenida”, e concluiu: “Ficaremos em breve livres do triste espetáculo, da feira de criaturas humanas”.[5]

O episódio ilustra o contexto enfrentado por artistas negros, ao evidenciar uma dimensão importante da estrutura racista: a tentativa de controlar os corpos negros; ou os lugares nos quais suas presenças seriam toleradas; ou quais comportamentos podem ser vistos como um atrevimento de quem se recusa a “aprender o seu lugar”. Se na Companhia Negra de Revistas havia uma dimensão satírica da questão racial, nas outras expressões desse gênero teatral era comum o uso de estereótipos racistas para efeitos cômicos. O que não significa que artistas negros aceitavam passivamente essas imposições.
Em 1935, Grande Otelo participou do espetáculo Carioca, da Companhia de Jardel Jércolis, que continha inúmeros diálogos preconceituosos.[6] Certa noite, o ator decidiu se “vestir de mulher” e invadiu uma cena da qual não participava – um gesto de irreverência que desafiava não apenas a autoridade cênica, mas também a lógica de uma sociedade empenhada em fixar cada um em seu devido lugar. Naquele momento, “o público riu muito com ele”.[7]
É na negociação entre o drama e a comédia, o choro e o riso, que se constitui a trajetória de Otelo. Em 1941, o ator revela à revista Diretrizes que “sua ‘maior ambição’ era interpretar um ‘papel sério’, que fizesse o público chorar”.[8] A matéria inspiraria seu primeiro protagonista no cinema, Moleque Tião (José Carlos Burle, 1943), da recém-fundada Atlântida. Apesar do filme ser considerado desaparecido, sua narrativa foi reconstruída por meio de reportagens da época. O personagem Tião, que sonha em ser artista de teatro e busca uma companhia negra no Rio de Janeiro, encontra lastro na trajetória de Otelo. Também somos irmãos (José Carlos Burle, 1949) marca a continuidade do desejo de Otelo por papéis densos. A trama gira em torno de dois irmãos negros criados por uma família branca. Miro (Grande Otelo) é o malandro ressentido; Renato (Aguinaldo Camargo),[9] o negro exemplar que busca ascender por meio da educação. O longa-metragem também incorpora elementos biográficos de ambos os atores: Otelo viveu entre famílias brancas, enquanto Camargo, como seu personagem, foi advogado.
“Trabalhei no filme como se contasse para a câmera a história da minha própria alma…”[10] Esse é o relato do ator Aguinaldo Camargo sobre Também somos irmãos. O corpo e a alma em cena são rastros que podemos seguir, ou, como diz Miro: “Minha alma é mais preta que essa mão”. Renato é o negro ideal: seu corpo é diligente, anda com cuidado, costas encolhidas, roupas impecáveis. Ele se forma como advogado e é apaixonado por Marta, sua irmã branca adotiva. Miro é o oposto. Malandro que bebe, ri, canta e desafia: “Há de passar 100 anos até que se esqueçam de mim”. De modo atrevido, Miro insiste em não se encaixar na exemplaridade esperada de homens negros que desejam ser aceitos. Recusa o lugar da docilidade e submissão. Ou, como diria Renato: “Jamais aquele moleque se conformaria de ser o negrinho insignificante que realmente era. De ser apenas um negrinho.” À medida que, para Miro, o personagem de Camargo “pensa que é um negro livre, mas não é, não tem esse direito”.
Também Somos Irmãos se constitui na contraposição desses dois homens negros, irmãos. No entanto, junto aos constantes embates, há também um laço de irmandade que atravessa a narrativa. Quando Renato está se preparando para sua formatura, Miro começa a se exibir, falando sobre sua persona criminosa. Renato não o leva a sério e diz: “Você está representando”. Isso é suficiente para despertar a raiva de Miro – sua máscara fora frivolamente arrancada – e ele esbraveja que Renato fracassará. A cena, que poderia escalonar, é interrompida por uma mulher que traz o paletó de Renato. Miro, então, ajuda o irmão a vestir a roupa e lhe dá um tapa nas costas, um gesto de orgulho que contradiz suas palavras anteriores. Ao sair de casa, Renato é recebido com aplausos pela comunidade. Para evitar que ele suje sua roupa na lama, os moradores conseguem tábuas e criam um caminho improvisado. Um plano-detalhe nos revela os pés de Renato se equilibrando cuidadosamente. Há uma alegria coletiva pela ascensão de Renato à posição de advogado, e um esforço coletivo para que sua impecabilidade seja mantida. Grande Otelo e Aguinaldo Camargo estão atuando como personagens que, por sua vez, também atuam. Cada um no seu jogo.
A sequência na delegacia, quando Miro encontra repórteres após ser preso por um crime que não cometeu, sintetiza isso: ele conta seus crimes com humor, até que começam a duvidar de sua veracidade. Ao que ele rapidamente muda o tom, demanda ser escutado, tanto pelos policiais quanto pelo público. A cena revela a força de Miro e toda a potência do ator Grande Otelo. Ele passa da alegria para a raiva, exige atenção, demonstra sua tristeza. Seu corpo vai da altivez ao cansaço de uma vida inteira. Ao fim do monólogo, desafia: “Hoje vocês não levam mais nada”. No final, Miro não se torna exemplar, mas ajuda o irmão. Renato, apesar de suas tentativas, comete um crime. Marta, a branca da família adotiva e por quem Renato vislumbra uma paixão, não o perdoa. Numa sociedade que não te quer, não há integração possível. Uma das forças de Também somos irmãos está em sua dimensão não conciliatória, especialmente dentro de um país que tentava forjar uma ideia de unidade nacional.
Anunciado o desafio, ergue-se a hipótese: a estranheza de Otelo com Sebastião Prata, ou bem dizendo, Grande Otelo não se deve à tristeza ou à alegria reveladas, mas ao jogo da atuação – às dobras entre presença e performance. O curta o captura desprevenido, nos bastidores, quando o corpo ainda não performa e a risada tarda diante da solidão. Pensar em Grande Otelo é, acima de tudo, olhar para ele. Eis também a beleza desse curta-metragem: a chance de enxergar, por outro ângulo, um ator fundamental na história do cinema brasileiro e que não cessa de habitar nossa memória. Não por acaso, curta e longa usam a mesma canção composta por ele: “Há de passar 100 anos/ até que se esqueçam de mim”.
[1] “Festival de Curta-Metragem recebe documentário em cores sobre Grande Otelo”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17.06. jun. 1972.
[2] Ibidem.
[3] Em diferentes depoimentos de Grande Otelo, ele lembra que Uberlândia era chamada de São Pedro de Uberabinha durante a sua infância. A mudança de nome ocorreu em 1929.
[4] Sobre a Companhia Negra de Revistas, ver Barros, Orlando de. Corações de Chocolat: A história da Companhia Negra de Revistas (1926-27). Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2005. É importante notar que o primeiro espetáculo da Companhia aconteceu em julho de 1926, e Grande Otelo entroua no elenco apenas em outubro do mesmo ano.
[5] BRITO, Deise Santos de. Um ator de fronteira: uma análise da trajetória do ator Grande Otelo no teatro de revista brasileiro entre as décadas de 20 e 40. 2011. Dissertação de Mestrado, – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, pp. 41-, 42
[6] Parte dos diálogos do espetáculo Carioca pode ser encontrado na dissertação já citada de Deise Santos de Brito.
[7] CABRAL, Sérgio. Grande Otelo: Uma biografia. São Paulo: Editora 34, 2007, p. 63
[8] MELO, Luis. Argumento e roteiro: o escritor de cinema Alinor Azevedo. Dissertação de Mestrado, – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006, p. 71.
[9] Além de Aguinaldo Camargo, Ruth de Souza também compõe o elenco. Ambos os atores são oriundos do Teatro Experimental do Negro (TEN).
[10] “Numa conversa de café”. O Jornal, Rio de Janeiro, 14.08. ago. 1949.