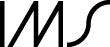A mostra Antologia do delírio: 10 anos de Anarca Filmes está em cartaz no cinema do IMS Paulista em julho.
No ano de 2013, morei no Rio de Janeiro durante uma breve temporada. Nesse período, lecionei como estagiário de docência a disciplina Linguagem Cinematográfica I na graduação em comunicação da UFRJ, sob orientação do professor Denilson Lopes. Lembro que eu estava nervoso para começar. Num contexto em que o cinema brasileiro coroava a representação naturalista de temáticas de cunho social, na chave da denúncia e do lamento, como os alunos iriam reagir à minha abordagem bastante esteticista da história do cinema até meados do século 20? Naquele ano, a turma contava com muitos alunos pretos. Havia gente de várias regiões do Rio, quebrando a tradição da predominância elitista e branca da Zona Sul. Os alunos estavam ingressando pela primeira vez na UFRJ através do Enem e novas formas de política afirmativa. Haveria uma sede por realismo que eu não conseguiria suprir?
Para minha surpresa, a resposta à disciplina foi muito positiva. Havia um aluno com quem eu fazia trocas particularmente entusiasmadas, mesmo depois do horário da aula: Lorran Dias, que em breve viria a formar, junto com Amanda Seraphico e Clari Ribeiro, o coletivo cuir experimental Anarca Filmes. Os jovens daquela turma, vindos de situações periféricas, pareciam mais interessados pelo glamour e pelo brilho. Filmes graves sobre miséria social eram mais o gosto de uma elite que não vivia essa miséria, mas que tinha o fetiche de filmá-la. Lorran e eu conversamos entusiasmadamente sobre o conceito de “fotogenia”, proposto pelo cineasta Jean Epstein por volta da década de 1930 no contexto do cinema impressionista francês. Segundo esse pensamento, a câmera teria a capacidade de revelar, naquilo que ela filma, algo de sutil, de inconsciente, um caráter do mundo que não conseguimos acessar a olho nu. Quando transposta para a tela do cinema, a imagem desse mundo se modifica. É um seu ser outro que se mostra ali: uma camada fantasmática sua, longínqua, aurática, que quebra nossa relação funcionalista e pragmática com esse mundo, que revela um brilho virtual seu, um brilho de potência.[1] É como se a imagem adentrasse um limiar… imagens no limite da morte. Quando vejo, hoje, os filmes da Anarca, gosto de enxergá-los como uma expansão radical do conceito de fotogenia – uma atualização experimental sua através da chave da afirmação de performances de gênero e sexualidades dissidentes no Sul Global.
Depois de uma aula, Lorran me apresentou a Clari Ribeiro. Conversamos de forma entusiasmada. Nos encontrávamos eventualmente em festas. Voltei para o Recife e, quando assinei a montagem de A lenda do Galeto Vegano (Amanda Seraphico e Sosha, 2016), curta feito na ponte Recife-Rio de Janeiro, entrei em contato virtual com Amanda, codiretora do filme. Desde então, os três – Amanda, Clari, Lorran – são amigues querides com quem sempre troco e a quem acompanho com entusiasmo. É que elus e eu (bem como meus colegas do coletivo recifense Surto & Deslumbramento) fazemos filmes no limite da morte. Da morte da nossa reputação artística, do diálogo institucional que conseguimos ter e da legitimação no circuito do cinema.
No limite da morte
Em Bad Galeto: no limite da morte (Amanda Seraphico, Def Ex Machina, Lorran Dias, 2017) somos colocados no centro de uma rua lotada de gente na região da Saúde, no Rio de Janeiro. Parece um típico fim de semana carioca: pessoas de diversas classes sociais estão com seus copos de álcool nas mãos, dançam, conversam. O que eles não têm é o look e a maquiagem de Bad Galeto, a personagem de Amanda nesse filme. A make com uma sobrancelha dos anos 1920, uma pintinha preta de clown e uma boca de batom desenhada de forma exageradamente triste. No meio de um monte de roupas sem personalidade de loja de departamento, aquela pierrô bizarra, uma espécie de ancestral de Leigh Bowery, surge como uma aparição fantasmática.
De fato, “fantasma” é a palavra certa a ser usada aqui. No filme, Bad Galeto está no limite da morte: enquanto todo mundo está se divertindo ao redor, ela está mal, doente, caindo pelos cantos e com fraqueza no corpo. Em determinado momento, vomita um líquido verde neon e, através de um efeito digital de sobreposição simples, típico dos filmes fantasiosos do Primeiro Cinema desde Méliès, seu espírito sai do corpo. Inconsciente de que é um fantasma, Bad Galeto continua sua perambulação pelas ruas da cidade – vemos, assim, imagens documentais do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, vemos um espaço de limbo purgatorial pelo qual um corpo cuir transita, sem entender muito bem o que está acontecendo. Fotogenia dos espaços, paisagens e arquiteturas cariocas. Uma entidade do além encontra Galeto e comunica-lhe sua condição: “Você está condenada a assombrar essa festa para sempre!”.
Se o filme LGBTQUIAP+ naturalista enxerga o queer como um corpo que precisa de justiça social para se engajar no presente com todos os direitos de um corpo heteronormativo, o cuir fantasmagórico parece se propor como um corpo além do presente, um corpo que atravessa camadas de tempo para assombrar um mundo que tenta se fechar na normalidade. Pelas lentes do fantasma, as pichações, os prédios decadentes e decrépitos reais do Rio de Janeiro, sob a luz laranja dos postes na noite escura, revelam para a câmera digital barata sua fotogenia de purgatório. Purgatório no qual Bad Galeto vai ter que enfrentar sua missão: incomodar a festa heteronormativa, assustar o cis padrão, desconcertar o esquema de percepção tradicional do ambiente com a purpurina que continua brilhando para além do tempo.[2] Essa fotogenia revela esse “Terceiro Mundo” não apenas como um lugar onde problemas sociais precisam de intervenção política, mas como uma geografia liminar, estranha, assombrada por pixels que levam a um outro tempo e por sobreposições de camadas transparentes de imagens.

Imagens pobres
Os filmes da Anarca se abrem àquilo que a arista e ensaísta Hito Steyerl chamou de “imagens pobres”: takes gravados com erros, que acabam sendo assumidos na montagem, imagens de baixa definição, arquivos digitais pessoais ou retirados da internet, efeitos digitais baratos. Imagens liminares, à soleira da qualidade exigida pelas instituições da Arte.[3] Esse uso experimental das potências fotogênicas reveladas pela câmera cinematográfica – no caso da Anarca Filmes, câmeras cybershot, celulares e também eventualmente outros aparelhos considerados mais “profissionais” – leva naturalmente a um outro aspecto da estética experimentada nesse coletivo: a vivência de temporalidades outras.
Em Waleska Molotov (Amanda Seraphico, 2017) – como em vários outros trabalhos da Anarca –, vemos imagens documentais capturadas, pelos próprios integrantes do coletivo, no Rio de Janeiro durante as manifestações de junho de 2013 que assolaram todo o Brasil. Essas imagens não estão nesses filmes para serem escrutinadas em busca de respostas racionais a respeito desse fenômeno político. Elas são o ponto de partida para um exercício estético: a experimentação sensorial de temporalidades outras. As balas de borracha, as explosões de bombas de gás lacrimogêneo são sons de baixa qualidade e imagens tremidas que desterritorializam e deslocalizam Waleska Molotov: não estamos no ano de 2013 (quando as imagens dos protestos foram capturadas) nem em 2017 (quando o curta foi finalizado). Estamos além. Não exatamente no além-morte ocupado por Bad Galeto, mas no além-sci-fi, no além-tempo de uma época não definida. É o futuro? As imagens de arquivo das manifestações são, assim, elementos estéticos para uma experimentação lúdica com o gênero da ficção científica distópica. Fotogenia distópica do Rio de Janeiro contemporâneo.
Distopia sci-fi
Acompanhamos Waleska Molotov, heroína cuir nas ruínas de uma distopia capitalista imensa e opressiva. Ela e seu bando de viados, sapatões e seres dissidentes não bináries com armas nas mãos (em figurino perfeito de Clari Ribeiro) se deslocam pelas ruas escuras e purgatoriais do Rio numa missão: Waleska Molotov é um filme irmão de Magnicídio (Jubilee, Derek Jarman, 1978). Logo, vemos os prédios do Poder sendo explodidos (em efeitos digitais toscos) – afinal, como disse Adirley Queirós numa entrevista recente a Leandro Demori, “pelo menos nos filmes, nós temos que ganhar!”.[4] Trata-se de um convite sensorial que Waleska Molotov faz ao espectador: se imaginar, sensorialmente, como uma cuir clandestina e ilegal numa época que é e não é a nossa. Não é que, como poderia ser dito de forma apressada e condescendente, os filmes da Anarca são não lineares, não respeitando o roteiro de começo/meio/fim. É bem mais precioso o que ocorre aqui: a imaginação corporal – e prazerosa, divertida, como em um filme de aventura – de ser um fora da lei, de enxergar múltiplas épocas e camadas de épocas em nosso presente: abrir a fotogenia do agora. Foi um pouco o que tentei, também, fazer no meu filme A seita (2015), em que um personagem com figurinos de dândi passeia por ruínas da cidade do Recife.[5] Purgatórios, temporalidades além – mas habitados de forma cunty.
Temporalidades fantasmáticas, sci-fi, mas, antes de tudo, quando se trata das obras da Anarca Filmes, temporalidade da festa. Um pouco como nos filmes da Leona Assassina Vingativa, a Anarca se sustenta em fiapos lúdicos de narrativa a partir dos quais os corpos cuir improvisam personagens preestabelecidos de forma debochada. É um pouco como se divertir numa festa. Era a mesma estratégia de Andy Warhol em alguns de seus filmes e, principalmente, de Jack Smith. A ficção é uma parte desses filmes, mas outra camada muito importante das suas imagens é o registro documental de ambientes de festas frequentadas pelos membros do coletivo – e, a partir daí, a documentação de toda uma comunidade cuir contemporânea à produção dos filmes. Em X-Manas (Clari Ribeiro, 2017) – uma das várias parcerias Rio-Recife feitas pelo coletivo –, os corpos cuir da cena recifense de festas underground performam para a câmera de forma muito similar às criaturas de Jack Smith. Em determinado momento, uma personagem mistura psicoativos e bebe um chá para ficar lombrada. Como resultado, aquelas clubbers debochadas viram super-heroínas contra o capitalismo que assola a cidade do Recife no ano de 2054. Nos filmes da Anarca, bebe-se, usam-se drogas, dança-se, ouve-se música eletrônica: é a festa como modo de vida, sem um olhar moralista ou julgador. A Anarca Filmes faz curtas-metragens e, também, teasers de festas. Dandismo marginal.[6]
Glamour como arma política
Em Trópico terrorista (Lorran Dias, 2016), a festa se coloca de forma genial, através de uma montagem que costura, com sobreposições, imagens de Amanda Seraphico – com cabelo amarelo neon, make de demônia e leque, num dos figurinos mais icônicos da história da Anarca Filmes – andando pelo carnaval carioca com imagens das manifestações de 2013. O caos do carnaval se confunde, através dos pixels, com o caos da luta política. É como se víssemos uma miragem de um futuro distópico em que as trincheiras são habitadas pelas cuir cuntyssimas. As sobreposições e a edição de som criam um limbo lombrado, entorpecente, para o espectador habitar. Festa é luta, e luta é festa. Em determinado momento, ouvimos a voz chapada de uma anônima perguntando: “Cara, cadê aquela menina, vida, da cabeça amarela?”. A frase se repete ad infinitum na trilha do som, como um remix de música eletrônica. Da mesma maneira que essa pessoa, perdida e balbuciando com a voz ébria no fim do carnaval, nós, espectadores, ficamos à procura desse ícone de cabeça amarela, esse ícone estético e político.
Tanto em Bad Galeto e Waleska Molotov quanto no meu filme A seita, vemos os corpos dos foras da lei, dos anti-heróis e bandidos cuir caídos, mortos, estirados no chão, no limite da morte – uma imagem que Clari Ribeiro explorou até o paroxismo em seu curta mais recente Se eu tô aqui é por mistério (2024), do coletivo cuir brasileiro Excesso Filmes, remetendo às fotografias escatológicas, porém glamurosas de corpos estirados feitas por Cindy Sherman. Esses corpos cuir ultracoloridos mortos e cheios de sangue têm algo da romantização do mártir. É a glamurização como arma revolucionária. Mas não devemos esquecer a lição que aprendemos com Bad Galeto – estar no limite da morte não é o fim da jornada. É só o começo.
[1] Ver EPSTEIN, Jean. The Intelligence of a Machine. Minneapolis: Univocal, 2014. Ressonâncias do conceito de “fotogenia” foram desenvolvidas por SCHEFER, Jean-Louis. L’Homme ordinaire du cinéma. Paris: Cahiers du Cinéma/Gallimard, 1997.
[2] A associação entre camp e fantasmagoria foi construída brilhantemente a partir do conceito de “aura” proposto por Andy Warhol no ensaio: SHAVIRO, Steven. “The Life, After Death, of Postmodern Emotions”. Criticism, v. 46, n. 1, 2004, pp. 125-141.
[3] Argumento completo em: STEYERL, Hito. In Defense of the Poor Image. e-flux, n. 10, nov. 2009.
[4] Entrevista do cineasta Adirley Queirós ao portal TV Brasil no YouTube (na íntegra).
[5] No texto publicado no catálogo da mostra Brasil Distópico, de 2017, tentei falar um pouco sobre como nesse filme eu queria compartilhar a sensação de gostar de estar nas ruínas. Ver: ANTÔNIO, André. “Distopia queer”. In: ALMEIDA, Rodrigo e MOURA, Luís Fernando(orgs.). Brasil distópico. Rio de Janeiro: Ponte Produções, 2017.
[6] A relação entre dandismo e coletivos independentes de cinema que apostam num estilo de vida hedonista foi discutida em: LOPES, Denilson et. al. Inúteis, frívolos e distantes: à procura dos dândis. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019, cap. 3, “Sendo dândis juntos”.